| a
|
|
|
|
RE RE RE
A
Máquina do Tempo
por
Renato Pugliese
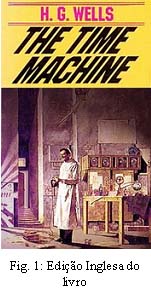 Para
abrir a seção de resenhas do Eppur si muove!,
escolhemos discutir duas obras – um livro e um filme – que podem
ser utilizadas para identificar a ligação entre a cultura artística
e a cultura científica, auxiliar o professor a apresentar e construir
conceitos científicos com seus alunos, trabalhar com a história
da ciência e, por último, levar à tão necessária
interdisciplinaridade.
Para
abrir a seção de resenhas do Eppur si muove!,
escolhemos discutir duas obras – um livro e um filme – que podem
ser utilizadas para identificar a ligação entre a cultura artística
e a cultura científica, auxiliar o professor a apresentar e construir
conceitos científicos com seus alunos, trabalhar com a história
da ciência e, por último, levar à tão necessária
interdisciplinaridade.
Originalmente lançado
em 1894, o livro A Máquina do Tempo (fig. 1), escrito por Herbert George
Wells (fig. 2), serviu de roteiro para que dois filmes homônimos fossem
produzidos, o primeiro em 1960, dirigido por George Pal (fig. 3), e o segundo
em 2002, dirigido por Simon Wells (fig. 4), bisneto de H. G. Wells. Analisamos
brevemente o livro (nota 1) e a versão cinematográfica de 2002
(nota 2), procurando destacar elementos úteis para alcançarmos
os objetivos propostos no parágrafo anterior.
Como início da nossa discussão, gostaríamos de apresentar
o escritor. Wells nasceu em 1866 em Bromley, na Inglaterra. Estudou, sob concessão
de uma bolsa, na Escola Normal de Ciência, em Londres, e trabalhou como
Contador até que se tornou escritor. É considerado um dos pioneiros
da ficção científica, mas também escreveu romances
cômicos socialmente conscientes, além de uma grande obra sobre
a história universal. Faleceu em Londres no ano de 1946. Assim, percebemos
que o escritor Wells possuía uma grande ligação com a
ciência, o que nos leva a compreender o por quê de suas obras
literárias estarem recheadas de temas científicos.
Partindo, neste momento, para um olhar sobre o livro, temos que o Viajante
do Tempo, como é chamado o protagonista, um renomado professor de mecânica
em Londres, determinado a provar que a viagem no tempo era possível
(nota 3), passa longos períodos no laboratório até que
constrói uma máquina que o satisfaz e o leva ao ano de 802.701
(!), período em que a espécie humana sofreu diversas adaptações
genéticas e gerou duas raças, uma que reside na superfície
da Terra, os Elois, e outra no subterrâneo, os Morlocks.
 Logo nas primeiras páginas, o Viajante do Tempo convida algumas pessoas
para apresentar um protótipo de sua máquina e, nesta apresentação,
discute o Tempo como sendo uma quarta dimensão do Espaço (nota
4). Interroga os espectadores sobre a possibilidade de existência de
um cubo instantâneo – que existisse sem a dependência do
tempo – e esta questão gera polêmica no auditório.
Em duas ou três páginas, que poderiam ser lidas por alunos do
ensino médio, Wells introduz através de seu protagonista elementos
de uma Geometria Quadridimensional. A seguir, o Viajante coloca em funcionamento
seu pequeno aparelho, que imediatamente desaparece. Após um pequeno
instante de susto, é dito que a maquininha está viajando no
tempo e, por essa razão, desapareceu.
Logo nas primeiras páginas, o Viajante do Tempo convida algumas pessoas
para apresentar um protótipo de sua máquina e, nesta apresentação,
discute o Tempo como sendo uma quarta dimensão do Espaço (nota
4). Interroga os espectadores sobre a possibilidade de existência de
um cubo instantâneo – que existisse sem a dependência do
tempo – e esta questão gera polêmica no auditório.
Em duas ou três páginas, que poderiam ser lidas por alunos do
ensino médio, Wells introduz através de seu protagonista elementos
de uma Geometria Quadridimensional. A seguir, o Viajante coloca em funcionamento
seu pequeno aparelho, que imediatamente desaparece. Após um pequeno
instante de susto, é dito que a maquininha está viajando no
tempo e, por essa razão, desapareceu.
Como esta primeira apresentação gerou uma grande polêmica,
o Viajante convida a todos para um jantar numa próxima semana, onde
apresentaria a máquina final. Neste jantar, e um pouco atrasado, surge
o Viajante, muito machucado, cansado e com fome, e diz que acabou de chegar
de uma longa viagem no tempo, e então, começa a descrevê-la.
Além da discussão sobre tempo e espaço, o narrador levanta
a questão da possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar no
espaço ao mesmo tempo, o que é mais um exemplo de discussão
possível de ser apresentada em sala de aula. Ainda no decorrer da narração,
são interessantes as observações do Viajante sobre o
movimento dos astros celestes quando se viaja no tempo em alta velocidade,
como o movimento da trajetória do Sol ao passar das estações
do ano, ou a alteração dos desenhos das constelações,
ocorrida pelo movimento de precessão terrestre.
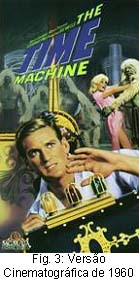 O narrador
ainda discute, de uma maneira filosófica, a utilidade da ciência
atual, pois na época em que ele está (século 8028) não
existem mais livros, pesquisadores ou escolas, o que destrói o sonho
da inteligência humana – já que aquele povo vive aparentemente
bem –, além do que os seres com quem ele convive não possuem
dúvidas ou questões sobre nenhum assunto (não são
interessados por nada), e como o conhecimento nasce das dúvidas, eles
não precisam do mesmo. O narrador
ainda discute, de uma maneira filosófica, a utilidade da ciência
atual, pois na época em que ele está (século 8028) não
existem mais livros, pesquisadores ou escolas, o que destrói o sonho
da inteligência humana – já que aquele povo vive aparentemente
bem –, além do que os seres com quem ele convive não possuem
dúvidas ou questões sobre nenhum assunto (não são
interessados por nada), e como o conhecimento nasce das dúvidas, eles
não precisam do mesmo.
Ainda nesse futuro distante, é notável a influência das
teorias de Charles Darwin sobre a adaptação de humanos, por
exemplo, à natureza em longo prazo. O escritor descreve as duas raças
descendentes do homem moderno adaptadas à luz (no caso dos moradores
subterrâneos, que possuem pele branca e olhos enormes), ao clima, às
necessidades digestivas, entre outras (nota 5).
Depois de recuperar a sua máquina, o narrador avança mais no
tempo, chegando a uma época em que a Terra cessou seu movimento de
rotação em relação ao Sol (nota 6), e este apenas
sobe e desce (mas não se põe) no oeste, uma época onde
não há mais vestígios de vida humana e, pela baixa intensidade
de luz do Sol – o qual se encontra sempre próximo do horizonte
– é possível ver eclipses solares causados, supostamente,
por Mercúrio ou Vênus. Este livro ainda nos permite discutir
questões sociais e econômicas, como a evolução
da diferença entre as classes rica e pobre, o que nos faz incluir professores
de geografia e história no trabalho.
Contudo, olhemos agora para o filme lançado em 2002 para que possamos
ampliar nossa proposta de pesquisa. Esta adaptação, feita como
dito anteriormente, pelo bisneto de H. G. Wells, Simon Wells, não é
fiel ao livro. Ela é baseada no mesmo, porém, as principais
cenas do filme não constam na ficção original, a não
ser a grande viagem por 800 mil anos. No entanto, o filme não deixa
de ser interessante e nos dá a possibilidade, como o livro, de alcançarmos
os objetivos mencionados no primeiro parágrafo deste texto.
 Alguns detalhes iniciais, que diferenciam o filme do livro, não podem
deixar de ser citados. Por exemplo, no filme o Viajante do Tempo possui um
nome, Alexandre Hartdegen (Guy Pierce), e mora em Nova Iorque, contrariando
a residência londrina do original (coisas de Hollywood). Além
disto, antes de alcançar o século 8028, o viajante passa pelo
ano de 2030, época em que a Lua está colonizada e que, alguns
anos depois, é destruída por fatores de influência humana
(nota 7).
Alguns detalhes iniciais, que diferenciam o filme do livro, não podem
deixar de ser citados. Por exemplo, no filme o Viajante do Tempo possui um
nome, Alexandre Hartdegen (Guy Pierce), e mora em Nova Iorque, contrariando
a residência londrina do original (coisas de Hollywood). Além
disto, antes de alcançar o século 8028, o viajante passa pelo
ano de 2030, época em que a Lua está colonizada e que, alguns
anos depois, é destruída por fatores de influência humana
(nota 7).
Durante sua viagem para o distante futuro, os efeitos especiais – de
altíssima qualidade – nos permitem ver a dinâmica do planeta
ao passar dos anos, os rios alterando seus caminhos, as estações
de frio e calor, a trajetória do Sol no céu de Solstício
a Solstício, entre outros, os quais nos dão a chance de discutir
conceitos de física e geografia, por exemplo.
Outra questão fundamental do filme, mas que o livro não cita,
é uma referência a um jovem pesquisador, no final do século
XIX, chamado Einstein. Esta citação dá ao professor,
no caso do ensino, a oportunidade de trabalhar com a história da ciência
e de inserir a física moderna no ensino médio, pois já
estamos no século XXI e a população só tem a chance
de conhecer, através da escola básica, a física clássica.
Para concluirmos a comparação das edições, não
podemos deixar de dizer que, na versão original (livro), o motivo pelo
qual o Viajante constrói a máquina é puramente científico,
pois almejava ser possível viajar no tempo. Já na adaptação
para o cinema, Alexander Hartdegen perde sua amada Emma (Sienna Guillory)
e por isso deseja voltar no tempo para não deixá-la morrer,
e percebe que não adianta pois, mesmo voltando ao passado, ela falece
novamente. Assim, decide ir ao futuro para encontrar suas respostas –
agora por motivos científicos – e acaba, no século 8028,
se relacionando com uma Eloi, chamada Mara (Samantha Mumba), por quem destrói
sua máquina do tempo e por lá fica, contrariando a estória
original, na qual o Viajante volta para sua época natural.
Enfim, tanto com o livro quanto com o filme, temos inúmeras possibilidades
de identificar a ligação entre a cultura artística e
a cultura científica, auxiliar o professor a apresentar e construir
conceitos científicos com seus alunos, trabalhar com a história
da ciência e, por último, levar à tão necessária
interdisciplinaridade.
Notas_________________
- Wells, H. G., A Máquina do Tempo (The Time Machine – 1894),
tradução de Fausto Cunha, Ed. Francisco Alves, 4ª Edição,
SP, 1991.
- Wells, S. (dir), The Time Machine, 2002, EUA, Warner (distrib).
- Este é um interessante aspecto a ser discutido com os alunos,
por um professor de Ensino Médio, por exemplo: Será mesmo possível
viajar no tempo?
- Percebam que o livro foi publicado originalmente em 1894, poucos anos
antes de Einstein publicar sua teoria da Relatividade, o que já nos
permite a inserir a história da ciência.
- Estas observações nos permitem produzir um trabalho interdisciplinar
com professores de biologia, física, história e química,
por exemplo.
- Neste caso a Terra sempre tem a mesma face virada para o Sol, é
como se ela realizasse um movimento com relação ao Sol como
a Lua faz hoje em relação à Terra.
- Em alguns trechos do filme é mostrada a Lua em pedaços
ainda em órbita em torno da Terra, o que permite abrir discussões
sobre Gravitação, por exemplo.

imprimir
|
|